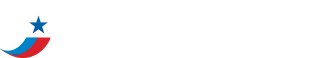Consumidor pode pedir de volta ICMS sobre energia Por Alessandro Cristo.
Não cabe a cobrança de ICMS sobre a energia elétrica contratada e não utilizada e o contribuinte indireto pode pleitear a restituição dos valores na Justiça. Com base em entendimento firmado em sede de recurso repetitivo pelo Superior Tribunal de Justiça a respeito, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro já começa a resolver esses casos com decisões monocráticas, acelerando os julgamentos. Foi o que ocorreu na última segunda-feira (5/11), em caso envolvendo hoteis de luxo no Rio. Em decisão monocrática, a desembargadora Cláudia Telles, da 5ª Câmara Cível da corte, concedeu ao Sheraton Barra, ao Rio de Janeiro Country Club e à construtora F. Rozantal o direito de receber de volta o que recolheram a título de ICMS cobrado pelo fisco estadual sobre contrato de fornecimento de energia elétrica cuja demanda efetiva não chegou ao total pactuado. As empresas ajuizaram ação contra o governo estadual pedindo o reconhecimento da ilegalidade da cobrança sobre energia contratada junto à Light, fornecedora no estado, quando a chamada demanda reservada de potência não é utilizada integralmente. Para as empresas, o imposto só pode incidir sobre o que é consumido de fato. Elas pediram a restituição do que foi pago nos últimos cinco anos. Para o poder público, no entanto, como a energia fica à disposição dos contratantes, o contrato de fornecimento de energia tem o intuito de aumentar o preço do serviço quando a quantidade consumida fica abaixo de determinados limites, ou seja, o preço pago tem contrapartida. O fisco ainda lembrou que o contribuinte de fato — o consumidor final, que paga, embutido na conta de energia, o valor do imposto — não tem direito a reclamar valores repassados ao fisco pelo contribuinte de direito — a concessionária que fornece energia. A posição de deslegitimar o contribuinte de fato para essas demandas foi adotada pelo Superior Tribunal de Justiça ao julgar, em 2010, sob o rito dos recursos repetitivos, o Recurso Especial 903.394, que tratava do IPI.
Diferenças e similitudes entre Venda com Reserva de Domínio e Alienação Fiduciária.
Na alienação fiduciária o principal interesse da instituição é emprestar ao cliente o dinheiro para a compra de um bem cobrar-lhe os juros e todos os encargos inerentes, sendo que o bem fica como garantia para recebimento da importância negociada. Entre aspas o que interessa a financeira são os encargos que ela receberá em decorrência do empréstimos. Por isso, muitas vezes, quando se financia um carro, por exemplo, e não se consegue pagar as mensalidades, as instituições propõem ações de busca e apreensão, e mesmo que o bem seja apreendido e devolvido para elas, a pessoa que tinha adquirido o bem continua a dever devido aos encargos financeiros sobre o empréstimo. Na reserva de domínio há uma venda de um bem para o comprador, e não importa de onde o dinheiro venha, mas se o adquirente não pagar, e o vendedor propor a ação e o bem voltar para suas mãos, o comprador não fica devendo nada, em tese (Vide Art. 1366). Neste contrato o que importa ao vendedor é receber o dinheiro da venda, ou seja, há o interesse do vendedor em vender o bem e do comprador em comprá-lo. Para ficar mais claro, supomos que eu compre um carro de você e no contrato haja a cláusula de “reserva de domínio”, caso eu não consiga pagar, você poderá propor ação e ter o carro de volta. Para que de fato inexista qualquer tipo de dúvida, segue o posicionamento da Professora Ciara Bertocco Zaqueo acerca do tema em comento: O comum entre os dois institutos é a transferência da posse direta do bem para o sujeito que pretende obter seu domínio. Mas, as diferenças, dentre outras, são: 1. na venda com reserva, há uma venda sob condição suspensiva, ou seja, o evento futuro e incerto do pagamento pelo comprador, embora a posse direta do bem já seja transferida; na alienação há uma venda para uma entidade financeira com condição resolutiva, ou seja, o pagamento da dívida consolida a propriedade no possuidor direto. 2. a venda com reserva pode ser feita diretamente entre comprador e vendedor, enquanto na alienação há a presença indispensável de um financiador. 3. a venda com reserva se restringe a bens móveis, enquanto a alienação pode ser aplicada também para a venda de imóveis.
Regime de bens e divisão da herança: dúvidas jurídicas no fim do casamento.
Antes da celebração do casamento, os noivos têm a possibilidade de escolher o regime de bens a ser adotado, que determinará se haverá ou não a comunicação (compartilhamento) do patrimônio de ambos durante a vigência do matrimônio. Além disso, o regime escolhido servirá para administrar a partilha de bens quando da dissolução do vínculo conjugal, tanto pela morte de um dos cônjuges, como pela separação. O instituto, previsto nos artigos 1.639 a 1.688 do Código Civil de 2002 (CC/02), integra o direito de família, que regula a celebração do casamento e os efeitos que dele resultam, inclusive o direito de meação (metade dos bens comuns) – reconhecido ao cônjuge ou companheiro, mas condicionado ao regime de bens estipulado. A legislação brasileira prevê quatro possibilidades de regime matrimonial: comunhão universal de bens (artigo 1.667 do CC), comunhão parcial (artigo 1.658), separação de bens – voluntária (artigo 1.687) ou obrigatória (artigo 1.641, inciso II) – e participação final nos bens (artigo 1.672). A escolha feita pelo casal também exerce influência no momento da sucessão (transmissão da herança), prevista nos artigos 1.784 a 1.856 do CC/02, que somente ocorre com a morte de um dos cônjuges. Segundo o ministro Luis Felipe Salomão, da Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), “existe, no plano sucessório, influência inegável do regime de bens no casamento, não se podendo afirmar que são absolutamente independentes e sem relacionamento, no tocante às causas e aos efeitos, esses institutos que a lei particulariza nos direitos de família e das sucessões”. Regime legal Antes da Lei 6.515/77 (Lei do Divórcio), caso não houvesse manifestação de vontade contrária, o regime legal de bens era o da comunhão universal – o cônjuge não concorre à herança, pois já detém a meação de todo o patrimônio do casal. A partir da vigência dessa lei, o regime legal passou a ser o da comunhão parcial, inclusive para os casos em que for reconhecida união estável (artigos 1.640 e 1.725 do CC). De acordo com o ministro Massami Uyeda, da Terceira Turma do STJ, “enquanto na herança há substituição da propriedade da coisa, na meação não, pois ela permanece com seu dono”. No julgamento do Recurso Especial (REsp) 954.567, o ministro mencionou que o CC/02, ao contrário do CC/1916, trouxe importante inovação ao elevar o cônjuge ao patamar de concorrente dos descendentes e dos ascendentes na sucessão legítima (herança). “Com isso, passou-se a privilegiar as pessoas que, apesar de não terem grau de parentesco, são o eixo central da família”, afirmou. Isso porque o artigo 1.829, inciso I, dispõe que a sucessão legítima é concedida aos descendentes, em concorrência com o cônjuge sobrevivente (exceto se casado em regime de comunhão universal, em separação obrigatória de bens – quando um dos cônjuges tiver mais de 70 anos ao se casar – ou se, no regime de comunhão parcial, o autor da herança não tiver deixado bens particulares). O inciso II do mesmo artigo determina que, na falta de descendentes, a herança seja concedida aos ascendentes, em concorrência com o cônjuge sobrevivente, independentemente do regime de bens adotado no casamento. União estável Em relação à união estável, o artigo 1.790 do CC/02 estabelece que, além da meação, o companheiro participa da herança do outro, em relação aos bens adquiridos na vigência do relacionamento. Nessa hipótese, o companheiro pode concorrer com filhos comuns, na mesma proporção; com descendentes somente do autor da herança, tendo direito à metade do que couber ao filho; e com outros parentes, tendo direito a um terço da herança. No julgamento do REsp 975.964, a ministra Nancy Andrighi, da Terceira Turma do STJ, analisou um caso em que a suposta ex-companheira de um falecido pretendia concorrer à sua herança. A ação de reconhecimento da união estável, quando da interposição do recurso especial, estava pendente de julgamento. Consta no processo que o falecido havia deixado um considerável patrimônio, constituído de imóveis urbanos, várias fazendas e milhares de cabeças de gado. Como não possuía descendentes nem ascendentes, quatro irmãs e dois sobrinhos – filhos de duas irmãs já falecidas – seriam os sucessores. Entretanto, a suposta ex-companheira do falecido moveu ação buscando sua admissão no inventário, ao argumento de ter convivido com ele, em união estável, por mais de 30 anos. Além disso, alegou que, na data da abertura da sucessão, estava na posse e administração dos bens deixados por ele. MeaçãoDe acordo com a ministra Nancy Andrighi, com a morte de um dos companheiros, entrega-se ao companheiro sobrevivo a meação, que não se transmite aos herdeiros do falecido. “Só então, defere-se a herança aos herdeiros do falecido, conforme as normas que regem o direito das sucessões”, afirmou. Ela explicou que a meação não integra a herança e, por consequência, independe dela. “Consiste a meação na separação da parte que cabe ao companheiro sobrevivente na comunhão de bens do casal, que começa a vigorar desde o início da união estável e se extingue com a morte de um dos companheiros. A herança, diversamente, é a parte do patrimônio que pertencia ao companheiro falecido, devendo ser transmitida aos seus sucessores legítimos ou testamentários”, esclareceu. Para resolver o conflito, a Terceira Turma determinou que a posse e administração dos bens que integravam a provável meação deveriam ser mantidos sob a responsabilidade da ex-companheira, principalmente por ser fonte de seu sustento, devendo ela requerer autorização para fazer qualquer alienação, além de prestar contas dos bens sob sua administração. Regras de sucessãoA regra do artigo 1.829, inciso I, do CC, que regula a sucessão quando há casamento em comunhão parcial, tem sido alvo de interpretações diversas. Para alguns, pode parecer que a regra do artigo 1.790, que trata da sucessão quando há união estável, seja mais favorável. No julgamento do REsp 1.117.563, a ministra Nancy Andrighi afirmou que não é possível dizer, com base apenas nas duas regras de sucessão, que a união estável possa ser mais vantajosa em algumas hipóteses, “porquanto o casamento comporta inúmeros outros benefícios cuja mensuração é difícil”. Para a ministra, há uma linha de
Supermercado é condenado a pagar R$ 12 mil por abordagem indevida de segurança.
O Bompreço Supermercados do Nordeste Ltda. deve pagar indenização de R$ 12 mil por abordagem indevida de segurança. A decisão, proferida nessa quarta-feira (24/10), é da 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE). Conforme os autos, M.R.L. fazia compras com o filho, no Bompreço do bairro Papicu, em Fortaleza. Quando saíam do supermercado, foram detidos por segurança que alegou que a criança havia furtado chicletes. A mãe negou que a criança tivesse pegado os produtos. O menino chegou a tirar a camisa para comprovar o fato, mas o segurança afirmou que o furto havia sido filmado. Por conta disso, M.R.L. e o filho ajuizaram ação requerendo indenização por danos morais. Alegaram que foram constrangidos em público. Na contestação, o Bompreço sustentou que houve o furto e que a abordagem ocorreu de maneira ponderada e discreta. Disse ainda que a confusão foi ocasionada pela consumidora, que perdeu a compostura. Foi marcada audiência de conciliação, que restou frustrada. Na ocasião, foi solicitada a fita de vídeo para ser anexada ao processo. Em parecer, o Ministério Público do Ceará (MP/CE) desistiu da exibição da fita, “visto que restou demonstrada a inviabilidade de sua juntada aos autos, como também a sua inutilidade como meio de prova, uma vez que nela não continha o momento da eventual prática do constrangimento descrito nos autos”. Em setembro de 2010, o Juízo da 20ª Vara Cível de Fortaleza condenou o supermercado a pagar R$ 6 mil a título de danos morais. Objetivando modificar a sentença, o Bompreço interpôs apelação (nº 0532484-69.2000.8.06.0001) no TJCE. A cliente também entrou com recurso, pleiteando a majoração da condenação. Ao relatar o caso, a juíza convocada Maria Gladys Lima Vieira destacou que, pela “análise do conjunto probatório dos autos, conclui-se pela ilicitude da atuação da empresa, consistente na abordagem pública e injustificada dos promoventes (mão e filho) sob acusação de furto, constrangendo-os perante todos os presentes”. A magistrada votou pela majoração da indenização para se adequar às especificidades do caso. Com esse entendimento, a 4ª Câmara Cível negou provimento ao recurso da empresa e deu parcial provimento ao da consumidora, fixando em R$ 12 mil a reparação moral, sendo R$ 6 mil para cada. Fonte: TJCE
Roubo de carro financiado, o que fazer?
Qual o direito do consumidor que compra um bem financiado e é roubado antes de terminar de pagar ? Tem que quitar a dívida? Ou pode ficar isento do pagamento? O aposentado Valdir Dantas, 55 anos, enfrenta o dilema. Ele financiou um carro em 60 meses (cinco anos) no banco, pagou 27 parcelas de R$ 530 e teve o veículo roubado agora quando faltam 33 prestações para quitar o empréstimo. Resultado: deve ainda R$ 17.490 à instituição financeira e como não contratou seguro, terá que pagar mesmo sem usufruir do bem. É justo? Traumatizado com o assalto há 45 dias, quando levaram o veículo Gol, ano 2008, Valdir Dantas tentou sem sucesso uma recomposição da dívida com o banco. Tinha juntado R$ 7 mil , mas o carro custava R$ 24 mil à vista. Tive que fazer o empréstimo no banco. Agora vou ter que pagar e ficar sem o carro?, questiona. São as regras do jogo financeiro. A responsabilidade civil pelo bem depende do tipo de financiamento do veículo. São três as modalidades mais usadasno mercado. Wilson Feitosa, presidente da Associação Brasileira dos Usuários de Veículos, explica que os contratos de leasing são mais favoráveis para o consumidor nos casos de roubo. O leasing é um contrato de arrendamento. A compra só é consumada quando o arrendatário paga a última parcela. Segundo ele, a Abuv tem várias decisões judiciais favoráveis ao consumidor. No caso do aposentado, o financimento foi feito através de um CDC (Crédito Direto ao Consumidor), consumando a compra do carro. ´Esta é a pior situação, porque o banco obriga o credor fazer um seguro e se o veículo for roubado, o saldo do financiamento terá que ser pago`, diz Feitosa. A mesma interpretação é aplicada aos consórcios de veículos. A única exceção admitida pelas administradoras de consórcios é a morte do participante. ´No caso de morte, o bem é automaticamente quitado`, indica o presidente da Abuv. Especialista em direito do consumidor, o advogado Alexandre Uchoa, considera que a responsabilidade civil do comprador do veículo deve ser aplicada nos contratos de leasing e CDC. Em geral, os contratos de financiamento preveem a contratação do seguro. A empresa que financia tem o interesse de preservar o bem`. Uma luz no fim do túnel: se o roubo acontecer dentro dos estacionamentos privados, o consumidor poderá ficar isento do pagamento, porque o estabelecimento tem a responsabilidade pelo o bem. SAIBA MAIS: Leasing – se o consumidor financiou o veículo através de uma operação de leasing (arrendamento), a responsabilidade civil é do proprietário do bem, ou seja, do banco. Em geral, a Justiça compreende que o comprador não deverá pagar por um bem que ainda não é seu Crédito direto ao consumidor (CDC) – se o bem é financiado através de um empréstimo direto ao banco, a propriedade do bem é do comprador e ele responde pela posse do veículo. Terá que quitar o financiamento em casos de roubo ou furto Consórcio – se a aquisição do veículo foi feita através de um consórcio e o bem foi roubado, o consorciado terá que pagar as prestações até o final do contrato. O consórcio só dispensa o pagamento em casos de morte IPVA – o consumidor poderá entrar com um requerimento na Secretaria da Fazenda pedindo o ressarcimento proporcional do imposto pago pelos meses que usou o veículo Inadimplência – se deixar de pagar o financiamento do veículo nos casos de CDC e consórcio, o banco poderá entrar com uma ação de cobrança na Justiça para executar a dívida Fonte – Associação Brasileira dos Usuários de Veículos (Abuv) Fonte: Diario de Pernambuco
O dano moral e o enriquecimento sem causa. Por Ulisses César Martins de Sousa
“Dizem que um povo que não conhece a sua história corre o risco de repeti-la como farsa ou como tragédia. Exemplo disso é um projeto de lei que tramita no Congresso (PL 3880/2012), que amplia os casos passíveis de indenização previstos no Código Civil. Pelo projeto, o juiz deverá levar em conta a extensão do dano, em todos os seus aspectos (morais, materiais, estéticos e sociais) antes de definir o valor da indenização. Tal projeto desconhece a história do dano moral no Brasil. Antes de Constituição de 1988 existia dúvida acerca da possibilidade de reparação do dano puramente moral. Essa dúvida foi eliminada pelas disposições contidas nos incisos V e X do artigo 5º da Constituição Federal, que admitem, expressamente, a indenização do dano moral. Surgiram, então, as primeiras ações em que se postulava a reparação do dano moral puro. O Superior Tribunal de Justiça, inicialmente, não interferia na fixação do valor das indenizações por dano moral. Contudo, os abusos – e os escândalos – foram tantos que a jurisprudência do STJ evoluiu, passando a Corte a intervir nesses casos. Consolidou-se na jurisprudência o entendimento de que é possível majorar ou reduzir o valor fixado como indenização, em sede de recurso especial, quando entender irrisório ou exagerado. O estudo dos precedentes da corte revela que a modificação da posição anterior foi motivada pelos exageros cometidos pelos tribunais locais que, com costumeira frequência, passaram a fixar indenizações que ultrapassavam a casa dos milhões de reais. Por diversas vezes, o STJ foi instado a reduzir o valor de indenizações que se transformavam em verdadeiras fontes de enriquecimento sem causa. Se é correto afirmar que o dano moral deve ser indenizado – e não há nenhuma dúvida sobre isso – é igualmente correto que se afirme que o valor da indenização deve ser fixado sem excessos, evitando-se enriquecimento sem causa da parte atingida pelo ato ilícito. A função da indenização é a reparação do dano. O ordenamento jurídico brasileiro – pelo menos até hoje – não abraçou o instituto dos punitive damages, que tem origem nos países de common law. Aliás, ao contrário do que pensam muitos, mesmo nesses países tal instituto é alvo de severas críticas. Nos Estados Unidos, alguns estados proíbem os punitive damages. Outros impõem limitações ao valor da indenização e determinam que parte da indenização seja destinada a fundos públicos. E mais: exige-se o dolo como requisito para a admissibilidade dos punitive damages. A premissa trazida pelo autor da proposta – de que o descumprimento da lei é economicamente vantajoso – não é correta. A alteração legislativa, tal como proposta, abrirá espaços para a fixação de indenizações absurdas, dará margem ao arbítrio e à arbitrariedade. Cabendo aqui lembrar que, em entrevista recente veiculada na revista Veja, a ministra Eliana Calmon, que atuou como Corregedora Nacional da Justiça, afirmou que esses casos (indenizações por dano moral) são nichos preferenciais para aqueles (poucos) juízes que têm como objetivo “fazer da Justiça um balcão de negócios”. É preferível que a lei não seja alterada e que a fixação do valor da indenização continue a ser tarefa do juiz que deverá realizar o arbitramento de acordo com as peculiaridades do caso concreto, orientado pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e evitando que o valor da reparação se torne em fonte de enriquecimento sem causa.” Fonte: “O dano moral e o enriquecimento sem causa” é de autoria do conselheiro federal da OAB pelo Maranhão, Ulisses César Martins de Sousa, e foi publicado na edição de hoje (15) do jornal Correio Braziliense
UMA SOMBRA PAIRA SOBRE O MERCADO DA SAÚDE. Por Renata Vilhena Silva.
*Renata Vilhena Silva Quase dois milhões de usuários se enquadram nos planos coletivos também chamados de PME (Pequenas e Médias Empresas) com menos de 30 vidas, que representam mais de 86% dos contratos de planos de saúde no País. Como a ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar) não controla os reajustes referentes a essa modalidade de contrato, que dependem da livre negociação entre as operadoras e as empresas contratantes, as primeiras deitam e rolam na hora de aumentar as mensalidades ou cancelar o contrato – quando ele não mais interessa à operadora, sem dó nem piedade, deixam o beneficiário sem cobertura. Para que entendamos melhor a lógica de mercado, é preciso dizer que as operadoras deixaram de se interessar pelos planos individuais, que oferecem maior segurança ao beneficiário, quando o mercado de pequenas e médias empresas explodiu no Brasil, seduzindo os planos de saúde com ótimas oportunidades de negócio. Esse nicho de empresas representa, hoje, 20% do PIB nacional. Como se trata de um negócio muito melhor para o contratado do que para a ponta extrema do contratante (beneficiários), os abusos têm sido constantes, num terreno sem regulamentação e fiscalização. Foram tantas as reclamações no PROCON e os processos judiciais que a ANS abriu consulta pública para o reajuste desse tipo de plano que não é regulado por ela. O objetivo da proposta de uma nova Resolução Normativa é diluir o risco desses contratos, oferecendo maior equilíbrio no cálculo do reajuste. Esse equilíbrio poderia existir se os cálculos considerassem toda a carteira e não só a sinistralidade, que puxa para cima os valores. Já que as operadoras depositam no mercado PME a esperança de lucro e sustentabilidade do negócio, deveriam ser mais transparentes e tornar públicos os seus balanços, como acontece com as empresas que ingressaram na Bolsa de Valores. Muitos ainda preferem o lugar perverso da sombra à luz, onde todos podem ver com exatidão e contratar sem enganos. A dignidade perpassa todas as esferas do relacionamento humano, quer seja ele pessoal ou comercial, é uma questão de princípios. A saúde, como sabemos, não pode ser entendida como um bem comercial comum, ela não é uma margarina que passamos no pão. A consulta pública para o reajuste dos planos PME se encerrou no último dia de agosto, vamos aguardar a publicação dos resultados e as novas regulamentações da ANS para saber se o consumidor será, enfim, respeitado. *Renata Vilhena Silva é sócia-fundadora do Vilhena Silva Advogados, especializado em Direito à Saúde, e autora das publicações “Planos de Saúde: Questões atuais no Tribunal de Justiça de São Paulo” e “Direito à Saúde: Questões atuais no Tribunal de Justiça”. fonte: ACCESSO – Letyicia Holanda letycia@accesso.com.br
Evicção e a Denunciação da lide: breve diálogo entre o Código Civil de 2002 e o vigente Código de Processo Civil.
Resumo A evicção, sem dúvida, é um tema complexo. Complexo uma vez que trata de direito material conexo com direito processual, em interdisciplinariedade. De certo, as bases repousam nas disciplinas Direito Civil e Direito Processual Civil. Não é raro se observar nos diversos manuais acadêmicos conceitos confusos ou tratando unicamente ou da parte civil ou da parte processual, o que não confere um bom entendimento sobre o assunto, fazendo com que não ocorra a compreensão e aprendizado pretendidos. O objetivo maior do presente trabalho, nesse sentido, é justamente aclarar as idéias recorrentes acerca da evicção, tanto em âmbito material quanto processual, como o caso do estudo conexo em relação à denunciação da lide, de forma didática e exemplificativa, levantando questões controversas e posições doutrinárias e jurisprudenciais, ou seja, aliar, o máximo possível, a teoria com a prática. Palavras-chave: Evicção; Denunciação da lide; Direito Civil; Direito Processual Civil; interdisciplinariedade. Introdução Para muitos estudantes de Direito, a evicção continua sendo um enigma a ser decifrado. Isso porque, em geral, é tratada de maneira um tanto quanto confusa, principalmente pelo seu caráter híbrido, pois possui cunho material e processual. Não seria de outro modo, a evicção, via de regra, dá-se ao final de um processo judicial ou, como considerado mais recentemente, de uma decisão administrativa. Insistentemente a matéria em geral é tratada de maneira isolada e sem exemplos práticos, ficando atrelada no mais das vezes à letra fria da lei. Assim, o objetivo do presente trabalho, é, portanto, a simplificação da compreensão do que seria a evicção, procurando solucionar algumas dúvidas básicas, bem como levantar o debate acerca de questões importantes que dela emanam, ou seja, fomentar o debate, a partir da clareza das idéias.[1] Considerações acerca da Evicção. O conceito clássico Conforme a definição de Marcus Cláudio Acquaviva (ACQUAVIVA, 1993), evicção tem por definição: “Do latim evincere, vencer, triunfar, desapossar. Perda total ou parcial de uma coisa, que sofreu seu adquirente, em conseqüência de reivindicação judicial promovida pelo verdadeiro dono ou possuidor. Perda total ou parcial do domínio, ou uso, de uma coisa em virtude de sentença, que a atribui a outrem, por direito anterior ao contrato, de onde nascera a pretensão do evicto. A garantia da evicção é obrigação que deriva diretamente do contrato. Por isso independe de cláusula expressa, e opera de pleno direito.” Na mesma linha de pensamento, autores da linha tradicionalista como Maria Helena Diniz (DINIZ, 2003) e Silvio Rodrigues (RODRIGUES, 2003) seguem a mesma esteira de raciocínio, a de que evicção é a perda da coisa em virtude de sentença. Silvio Rodrigues chega a afirmar que a evicção “resulta sempre de uma decisão Judicial” [2]. Ou seja, sob essa óptica, deverá necessariamente haver um processo judicial para ocorrer uma sentença que determinasse que uma pessoa perdesse a posse ou a propriedade de uma determinada coisa, móvel ouimóvel. Este conceito vem sendo modificado pela doutrina moderna, que, com base na jurisprudência atual, admite a ocorrência de evicção sem a necessidade de uma decisão judicial prévia, conforme se poderá observar no seguinte tópico. O conceito contemporâneo e as construções jurisprudenciais Autores mais modernos como Flávio Tartuce (TARTUCE, 2008), definem a evicção como “A perda da coisa diante de uma decisão judicial ou de um ato administrativo, que a atribuem a um terceiro”. Conforme ensaio de Ciara Bertocco Zaqueo (ZAQUEO, 2008), a doutrina não é uníssona em aceitar a chamada “evicção administrativa”, sendo que, segundo Arnaldo Wald (apud ZAQUEO, 2008), “alguns autores negam a responsabilidade pela evicção em caso de desapropriação ou apreensão do bem pela autoridade administrativa”, ou a apreensão pelas autoridades alfandegárias de automóveis que entram ilegalmente no país, havendo no caso responsabilidade dos vendedores pela evicção, sendo mero vício de direito, diverso da evicção. Não obstante a não unanimidade doutrinária, a Jurisprudência, todavia, tem admito a chamada “evicção administrativa, conforme julgado trazido a colação pelo exemplo de Flávio Tartuce (TARTUCE, 2008): Civil – Recurso especial – Apreensão de veículo por autoridade administrativa – Desnecessidade de prévia sentença judicial – Responsabilidade do vendedor, independentemente de boa-fé. (STJ, Acórdão: Resp 259.726/RJ (200000495557), 568304 Recurso Especial, data da decisão: 03.08.2004, Órgão julgador: – Quarta Turma, Relator Ministro Jorge Scartezzini, Fonte: DJ 27. 09. 2004, p. 361) [4]. Assim, pode-se afirmar que a evicção está assumindo na atualidade, novas feições, por conta da sua feição de garantia inerente ao contrato, garantia essa por possíveis defeitos jurídicos, diferentemente da garantia por defeitos materiais relacionados aos vícios ocultos ou redibitórios da coisa. É uma responsabilidade de uma das partes contratantes, como forma de garantia para que a outra parte não venha a perder a propriedade da coisa transmitida, ou venham a causar embaraços ao uso da coisa. Esse é o fundamento da evicção, o que justificaria, prima facie, a ampliação da responsabilidade pela evicção, abarcando as perdas em virtude de decisão administrativa. É importante ressaltar que a evicção somente ocorre os contratos bilaterais, onerosos e comutativos. Traduzindo, somente ocorre em contratos em que ambas as partes tenham obrigações recíprocas, ambas sofram sacrifício patrimonial (como por exemplo, o pagamento de um preço ou a entrega de um bem, que configuram a saída de um bem do patrimônio do contratante) e ainda, que ambas saibam previamente, exatamente o que devem fazer para adimplir o contrato. Admite-se assim em contratos como a compra e venda, a troca, e até mesmo em determinados tipos de contrato de doação. Sim, pois há as chamadas “doações remuneratórias”[4], que ocorre, por exemplo, quando um médico opera gratuitamente um paciente, mas, por uma obrigação natural, o paciente doa, até o limite do valor da cirurgia, um objeto de valor ao médico. Como configura obrigação natural, o pagamento tem natureza onerosa, muito embora seja, em um primeiro momento, gratuita, razão pela qual caberá a alegação de vício redibitórios e evicção. Elementos subjetivos na evicção Os sujeitos envolvidos na evicção têm nomenclatura própria. Assim, antes de se adentrar nos exemplos práticos, cabe mostrar os nomes técnicos dos sujeitos envolvidos na evicção, conforme a lição de Flávio Tartuce (TARTUCE, 2008): O Alienante, que transferiu onerosamente a coisa viciada. Ou