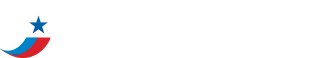Detalhamento de taxas no contrato bancário permite a cobrança da taxa efetiva de juros contratada.
A previsão em contrato bancário de taxa de juros anual superior a 12 vezes (duodécuplo) a taxa mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa de juros efetiva contratada. Esse é o entendimento firmado pela Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), por maioria de votos. A decisão ocorreu no julgamento de recurso especial sob o rito dos repetitivos, estabelecido no artigo 543-C do Código de Processo Civil. Não são admitidos recursos contra decisões de segunda instância que adotem a tese definida nesses julgamentos. No caso, foram firmadas duas teses. A primeira estabelece que “é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31 de março de 2000, data da publicação da Medida Provisória 1.963-17/2000, em vigor como Medida Provisória 2.170-36/01, desde que expressamente pactuada”. Nesse ponto, a decisão da Seção foi unânime. Também é consenso que a capitalização mensal de juros deve estar expressa no contrato de forma clara. Após intenso debate, a maioria dos ministros decidiu que “a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”. Na prática, isso significa que bancos não precisam incluir nos contratos cláusula com redação que expresse o termo “capitalização de juros” para cobrar a taxa efetiva contratada, bastando explicitar com clareza as taxas que estão sendo cobradas. A cláusula com o termo “capitalização de juros” será necessária apenas para que, após vencida a prestação, sem o devido pagamento, o valor dos juros não pagos seja incorporado ao capital para o efeito de incidência de novos juros. Ficaram vencidos os ministros Luis Felipe Salomão, relator, Nancy Andrighi e Paulo de Tarso Sanseverino. Para eles, a menção numérica das taxas não basta para caracterizar a pactuação expressa de juros capitalizados, a qual deve estar expressa no contrato. Voto vencedor No ponto controvertido, prevaleceu o entendimento apresentado em voto-vista pela ministra Isabel Gallotti. Ela concorda que a pactuação de capitalização de juros deve ser expressa, com taxas claramente definidas no contrato, bem como a periodicidade da capitalização. Tudo para que não haja qualquer dúvida quanto ao valor da dívida, aos prazos de pagamento e encargos. Em extenso voto, com base em doutrina e jurisprudência, a ministra buscou os conceitos jurídico e financeiro para “capitalização de juros”, “juros capitalizados” e “juros compostos”, termos comumente usados como sinônimos. Entendeu que a “capitalização de juros” vedada pelo Decreto 22.626/33 (conhecido como Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida pela Medida Provisória 2.170-36, para as instituições financeiras, desde que expressamente pactuada, está ligada à circunstância de os juros devidos e já vencidos serem, periodicamente, incorporados ao valor principal. Os juros não pagos são incorporados ao capital e sobre eles passam a incidir novos juros. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de matemática financeira, de “taxa de juros simples” e “taxa de juros compostos”, métodos usados na formação da taxa de juros contratada, prévios ao início do cumprimento do contrato. “A mera circunstância de estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros não implica, portanto, capitalização de juros, mas apenas processo de formação da taxa de juros pelo método composto”, explicou a ministra. Taxa abusiva “Não me parece coerente com o sistema jurídico vigente, tal como compreendido na pacífica jurisprudência do STJ e do Supremo Tribunal Federal (STF), extirpar do contrato a taxa efetiva expressamente contratada em nome da vedação legal à capitalização de juros”, afirmou Isabel Gallotti. A ministra ressaltou que o contrato deve ser respeitado, inclusive a taxa efetiva de juros nele pactuada. Contudo, destacou que cabe ao Judiciário analisar a cobrança de taxas abusivas, que consistem no excesso de taxa de juros, em relação ao praticado no mercado financeiro. Acompanharam esse entendimento os ministros Raul Araújo, Antonio Carlos Ferreira, Villas Bôas Cueva e Marco Buzzi. Posição vencidaDiante da divergência, o relator reexaminou o caso e confirmou seu voto. Na ratificação, o ministro Luis Felipe Salomão afirmou que “a mera existência de discriminação da taxa mensal e da taxa anual de juros, sendo esta superior ao duodécuplo daquela, não configura estipulação expressa de capitalização mensal, pois ausente a clareza e transparência indispensáveis à compreensão do consumidor hipossuficiente, parte vulnerável na relação jurídica”. Salomão lembrou que, em recente julgamento realizado pela Terceira Turma (REsp 1.302.738), houve entendimento de que a especificação, no contrato bancário, das taxas mensal e anual de juros, não configurava informação capaz de, por si só, representar pactuação expressa de capitalização mensal de juros.Financiamento de veículoO recurso julgado é do Banco Sudameris, contra decisão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul favorável a cliente que financiou um carro em 36 prestações fixas. Como pagou apenas as duas primeiras parcelas, o banco ajuizou ação de busca e apreensão do veículo. Em seguida, o consumidor ingressou com ação pedindo a nulidade de cláusulas que considerava abusivas. O contrato estabeleceu taxa de juros mensal nominal de 3,16% e taxa anual efetiva de 45,25%, com 36 prestações fixas de R$ 331,83. Na ação, o consumidor queria reduzir os juros para 12% ao ano, de forma que as prestações mensais ficassem em R$ 199,72. Ele baseou sua pretensão no Decreto 22.626/33 (Lei de Usura). Segundo a ministra, o decreto restringiu a capitalização para evitar que uma dívida aumente em proporções não previstas pelo devedor que tenha dificuldade em cumprir o contrato. Além disso, já está estabelecido que o limite máximo de taxa de juros de 12% ao ano, previsto no citado decreto, não se aplica às instituições financeiras (Súmula 382 do STJ e 596 do STF). “Na realidade, a intenção do recorrido é reduzir drasticamente a taxa efetiva de juros contratada, usando como um de seus argumentos a confusão entre conceito legal de capitalização de juros devidos e vencidos e o regime composto de formação de taxa de juros”, concluiu Isabel Gallotti. No caso concreto, a ministra considerou que a contratação feita não poderia ser mais clara e transparente, com a estipulação de prestações em valores fixos e
Indenização pelo Proagro não abrange lucros cessantes.
O Programa de Garantia da Atividade Agropecuária (Proagro) destina-se apenas a isentar o produtor de obrigações financeiras relativas a operações de crédito rural cuja liquidação venha a ser prejudicada em decorrência de fenômenos naturais, não cobrindo, assim, os lucros cessantes. Esse foi o entendimento da Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que deu provimento a um recurso do Banco Central do Brasil (BC) contra decisão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4). O relator é o ministro Luis Felipe Salomão. Em 2001, um agricultor firmou contrato de mútuo rural com o Banco do Brasil, em São Joaquim (SC), para custeio de safra de um pomar de macieiras, além de aplicar certa quantia de recursos próprios. No mesmo instrumento contratual aderiu ao Proagro. Naquele ano, seu pomar de maçãs foi atingido por geada, resultando na redução da produção. Alegando que a perda encontra-se assegurada pelo Proagro, o homem ajuizou ação indenizatória contra o BC, requerendo o pagamento de indenização na instituição financeira que lhe concedeu o crédito rural. Em primeira instância, o agricultor obteve o reconhecimento do direito. O BC apelou, mas o TRF4 confirmou o entendimento por entender que, mesmo que a meta do Proagro seja a de igualar as obrigações do crédito rural de custeio, não se devem distinguir os lucros cessantes. Aquela corte entendeu que o produtor merecia indenização, uma vez que se constatou que 75% da perda da produção foram ocasionadas pela geada e que os danos causados pelo evento estavam expressamente amparados pelo seguro. Causa não coberta Inconformado com a decisão do colegiado, o BC entrou no STJ com recurso especial, sustentando que a decisão transformaria o Proagro em seguro com cobertura de lucros cessantes, ao determinar o pagamento de indenização por causa não coberta. Para o BC, a decisão do TRF4 também errou ao considerar apenas os valores de financiamento efetivamente empregados na produção e desconsiderar as receitas obtidas pelo agricultor. Ao analisar o recurso, o ministro Luis Felipe Salomão observou que a principal questão controvertida consiste em saber se o seguro Proagro garante apenas a exoneração de obrigações financeiras relativas à operação de crédito rural de custeio ou se cobre também os lucros cessantes. O magistrado destacou que o Proagro destina-se a exonerar o produtor rural, segundo critérios aprovados pelo Conselho Monetário Nacional, de obrigações financeiras relativas a operações de crédito, cuja liquidação seja dificultada pela ocorrência de fenômenos naturais, pragas e doenças que atinjam bens, rebanhos e plantações. Para o ministro, como houve perda parcial da produção prevista de maçãs, cabe ao seguro somente cobrir o financiamento rural somado aos recursos próprios do agricultor (que totalizaram R$ 53.237,37), deduzida a receita que o agricultor obteve com a produção não comprometida com a geada (que gerou renda de R$ 5.500), além dos valores que deixaram de ser gastos por conta da redução da colheita, o que não abrange os lucros cessantes. Diante disso, a Quarta Turma deu provimento ao recurso especial e determinou que o agricultor arque com os ônus sucumbenciais. Fonte: www.stj.jus.br
STJ define em quais situações o dano moral pode ser presumido.
Diz a doutrina – e confirma a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) – que a responsabilização civil exige a existência do dano. O dever de indenizar existe na medida da extensão do dano, que deve ser certo (possível, real, aferível). Mas até que ponto a jurisprudência afasta esse requisito de certeza e admite a possibilidade de reparação do dano meramente presumido? O dano moral é aquele que afeta a personalidade e, de alguma forma, ofende a moral e a dignidade da pessoa. Doutrinadores têm defendido que o prejuízo moral que alguém diz ter sofrido é provado in re ipsa (pela força dos próprios fatos). Pela dimensão do fato, é impossível deixar de imaginar em determinados casos que o prejuízo aconteceu – por exemplo, quando se perde um filho. No entanto, a jurisprudência não tem mais considerado este um caráter absoluto. Em 2008, ao decidir sobre a responsabilidade do estado por suposto dano moral a uma pessoa denunciada por um crime e posteriormente inocentada, a Primeira Turma entendeu que, para que “se viabilize pedido de reparação, é necessário que o dano moral seja comprovado mediante demonstração cabal de que a instauração do procedimento se deu de forma injusta, despropositada, e de má-fé” (REsp 969.097). Em outro caso, julgado em 2003, a Terceira Turma entendeu que, para que se viabilize pedido de reparação fundado na abertura de inquérito policial, é necessário que o dano moral seja comprovado. A prova, de acordo com o relator, ministro Castro Filho, surgiria da “demonstração cabal de que a instauração do procedimento, posteriormente arquivado, se deu de forma injusta e despropositada, refletindo na vida pessoal do autor, acarretando-lhe, além dos aborrecimentos naturais, dano concreto, seja em face de suas relações profissionais e sociais, seja em face de suas relações familiares” (REsp 494.867). Cadastro de inadimplentes No caso do dano in re ipsa, não é necessária a apresentação de provas que demonstrem a ofensa moral da pessoa. O próprio fato já configura o dano. Uma das hipóteses é o dano provocado pela inserção de nome de forma indevida em cadastro de inadimplentes. Serviço de Proteção ao Crédito (SPC), Cadastro de Inadimplência (Cadin) e Serasa, por exemplo, são bancos de dados que armazenam informações sobre dívidas vencidas e não pagas, além de registros como protesto de título, ações judiciais e cheques sem fundos. Os cadastros dificultam a concessão do crédito, já que, por não terem realizado o pagamento de dívidas, as pessoas recebem tratamento mais cuidadoso das instituições financeiras. Uma pessoa que tem seu nome sujo, ou seja, inserido nesses cadastros, terá restrições financeiras. Os nomes podem ficar inscritos nos cadastros por um período máximo de cinco anos, desde que a pessoa não deixe de pagar outras dívidas no período.No STJ, é consolidado o entendimento de que “a própria inclusão ou manutenção equivocada configura o dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos” (Ag 1.379.761). Esse foi também o entendimento da Terceira Turma, em 2008, ao julgar um recurso especial envolvendo a Companhia Ultragaz S/A e uma microempresa (REsp 1.059.663). No julgamento, ficou decidido que a inscrição indevida em cadastros de inadimplentes caracteriza o dano moral como presumido e, dessa forma, dispensa a comprovação mesmo que a prejudicada seja pessoa jurídica. Responsabilidade bancáriaQuando a inclusão indevida é feita por consequência de um serviço deficiente prestado por uma instituição bancária, a responsabilidade pelos danos morais é do próprio banco, que causa desconforto e abalo psíquico ao cliente. O entendimento foi da Terceira Turma, ao julgar um recurso especial envolvendo um correntista do Unibanco. Ele quitou todos os débitos pendentes antes de encerrar sua conta e, mesmo assim, teve seu nome incluído nos cadastros de proteção ao crédito, causando uma série de constrangimentos (REsp 786.239).A responsabilidade também é atribuída ao banco quando talões de cheques são extraviados e, posteriormente, utilizados por terceiros e devolvidos, culminando na inclusão do nome do correntista cadastro de inadimplentes (Ag 1.295.732 e REsp 1.087.487). O fato também caracteriza defeito na prestação do serviço, conforme o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC). O dano, no entanto, não gera dever de indenizar quando a vítima do erro que já possuir registros anteriores, e legítimos, em cadastro de inadimplentes. Neste caso, diz a Súmula 385 do STJ que a pessoa não pode se sentir ofendida pela nova inscrição, ainda que equivocada. Atraso de vooOutro tipo de dano moral presumido é aquele que decorre de atrasos de voos, o chamado overbooking. A responsabilidade é do causador, pelo desconforto, aflição e transtornos causados ao passageiro que arcou com o pagamentos daquele serviço, prestado de forma defeituosa. Em 2009, ao analisar um caso de atraso de voo internacional, a Quarta Turma reafirmou o entendimento de que “o dano moral decorrente de atraso de voo prescinde de prova, sendo que a responsabilidade de seu causador opera-se in re ipsa” (REsp 299.532). O transportador responde pelo atraso de voo internacional, tanto pelo Código de Defesa do Consumidor como pela Convenção de Varsóvia, que unifica as regras sobre o transporte aéreo internacional e enuncia: “responde o transportador pelo dano proveniente do atraso, no transporte aéreo de viajantes, bagagens ou mercadorias”. Desta forma, “o dano existe e deve ser reparado. O descumprimento dos horários, por horas a fio, significa serviço prestado de modo imperfeito que enseja reparação”, finalizou o relator, o então desembargador convocado Honildo Amaral. A tese de que a responsabilidade pelo dano presumido é da empresa de aviação foi utilizada, em 2011, pela Terceira Turma, no julgamento um agravo de instrumento que envolvia a empresa TAM. Neste caso, houve overbooking e atraso no embarque do passageiro em voo internacional. O ministro relator, Paulo de Tarso Sanseverino, enfatizou que “o dano moral decorre da demora ou dos transtornos suportados pelo passageiro e da negligência da empresa, pelo que não viola a lei o julgado que defere a indenização para a cobertura de tais danos” (Ag 1.410.645). Diploma sem reconhecimento Alunos que concluíram o curso de Arquitetura e Urbanismo da
Companhia aérea deve pagar indenização por extravio de bagagem.
A TAP Air Portugal deve pagar R$ 6.727,80 à comerciária E.M.S., que teve a bagagem extraviada. A decisão é da juíza Maria Vera Lúcia de Souza Saleri, do Grupo de Auxílio para Redução do Congestionamento de Processos Judiciais da Comarca de Fortaleza. Segundo os autos (nº 706651-65.2000.8.06.0001/0), E.M.S. comprou passagens da TAP e, no dia 6 de junho de 2004, saiu de Fortaleza com destino a Lisboa, em Portugal. De lá, embarcaria para Milão, na Itália. A cliente, no entanto, teve problemas junto à imigração portuguesa e foi obrigada a voltar ao Brasil. Ao regressar, percebeu que a bagagem havia desaparecido. Ela comunicou o fato à companhia aérea e foi informada de que a mala estaria em São Paulo ou em Brasília, mas nunca foi encontrada. Por conta do extravio, a TAP comunicou que pagaria indenização no valor de US$ 300,00 (o equivalente a US$ 20,00 por quilo). A comerciária alegou que a bagagem continha roupas e utensílios que, de acordo com comprovantes anexados ao processo, totalizavam R$ 2.818,33. Disse que a mala custou R$ 300,00 e que a empresa deveria reembolsar o trecho Lisboa-Milão-Lisboa não utilizado, no valor de US$ 513,00. Sentindo-se prejudicada, E.M.S. ingressou com ação na Justiça, requerendo indenização por danos morais e materiais. Na contestação, a companhia sustentou que, se a cliente levava peças de alto valor, deveria ter feito a declaração, o que obrigaria o ressarcimento. Ao julgar o caso, a magistrada condenou a TAP Air Portugal a pagar R$ 3 mil, por danos morais, e R$ 3.727,80, a título de reparação material. A juíza considerou que a ação da empresa “dá ensejo à indenização, já que o contrato não foi cumprido”. A decisão foi publicada no Diário da Justiça Eletrônico da última quinta-feira (21/06). Fonte: TJCE
Boates condenadas a indenizar clientes.
Duas boates de Belo Horizonte foram condenadas a indenizar dois de seus clientes em R$ 10 mil e R$ 6.500 por danos morais, devido à conduta abusiva de seus funcionários. Ambas as decisões foram publicadas na última sexta-feira, 22 de junho, pela 5ª e pela 3ª Varas Cíveis de Belo Horizonte. Uma das boates, a Lord Pub, localizada no bairro São Pedro, foi condenada porque em 21 de abril de 2010 o gerente e os seguranças do estabelecimento agrediram o cliente, um advogado, ao colocá-lo para fora da casa noturna. O advogado relatou que naquela data foi à Lord Pub com amigos e que, no momento de ir embora, mesmo apresentando o comprovante de pagamento das despesas, foi impedido pelos funcionários de se retirar, e que estes chamaram o gerente. O advogado alegou também que o gerente o forçou a sair com empurrões e, mesmo quando ele já estava do lado de fora, voltou com seguranças para agredi-lo com socos e chutes. Com esses argumentos, o advogado entrou com a ação requerendo R$ 18 mil de indenização por danos morais. Em sua defesa, a casa noturna alegou que o cliente causou problemas desde que chegou ao estabelecimento, pois tentou entrar com uma garrafa de bebida alcoólica, o que não é permitido pela casa, e agrediu verbalmente a recepcionista. No final da noite, pretendendo pagar a conta, tentou ser atendido antes de outros clientes que já estavam na fila de pagamento, mas o funcionário do caixa recusou-se a atendê-lo. De acordo com a boate, ele foi a outro caixa, mas retornou para ofender os funcionários, momento em que o gerente foi chamado e o colocou para fora do estabelecimento. O gerente alegou que o cliente permaneceu do lado de fora chutando a porta do estabelecimento, o que o motivou a chamar o porteiro e um outro funcionário para conter o advogado. Segundo o gerente, as agressões ocorreram em legítima defesa e causaram lesões leves. Ao analisar a ação, o juiz da 5ª Vara Cível, Antônio Belasque Filho, considerou o boletim de ocorrência e o relato das testemunhas e concluiu que o cliente provocou os funcionários da boate, porém nos âmbitos verbal, ao discutir com os funcionários, e material, devido aos chutes desferidos contra a porta. Mas destacou também não haver comprovação de que o cliente tivesse agredido fisicamente qualquer empregado da boate. O juiz avaliou que a boate poderia “ter tomado uma atitude mais sensata, como chamar a polícia, no entanto, optou pela agressão física”, o que ele considerou “desproporcional para cessar a conduta do cliente”. Ele salientou também a extensão das lesões sofridas pelo cliente, comprovadas pelos relatórios médicos e pelo exame de corpo de delito, o que, segundo o juiz, configurou o dever da boate de indenizá-lo. Ao estipular o valor da indenização, porém, o juiz decidiu reduzir o valor requerido, considerando “as atitudes reprováveis” do cliente, e fixou a indenização em R$ 10 mil. Outra boate Já a outra boate, Swingers, localizada no bairro Santa Lúcia, foi condenada porque seus seguranças cercaram e detiveram um cliente, sob a alegação de que ele havia furtado uma garrafa de vodca. O cliente juntou ao processo o boletim de ocorrência, noticiando que ele foi “levado à força pelos seguranças da boate até um local reservado” para esclarecimentos a respeito do furto, acusação que não foi confirmada. Já a boate defendeu-se alegando que um terceiro havia acusado o cliente do furto, e que a culpa pela acusação indevida era deste terceiro. Ao decidir, o juiz Christyano Lucas Generoso, respondendo pela 3ª Vara Cível de Belo Horizonte, analisou o boletim de ocorrência e o depoimento das testemunhas e concluiu que não houve qualquer prova que demonstrasse a existência do furto, portanto a abordagem foi abusiva, o que configurou a “prestação defeituosa de serviço”. A “exposição do cliente em local público”, segundo o juiz, caracterizou a existência de constrangimentos indenizáveis e a responsabilidade da boate. Levando em consideração a situação econômica dos envolvidos, a abordagem abusiva, as circunstâncias e o caráter pedagógico da medida, arbitrou o valor da condenação em R$ 6.500, para compensar o dano sofrido e desestimular a reincidência por parte da boate. Por serem de primeira instância, ambas as decisões estão sujeitas a recurso. Assessoria de Comunicação Institucional – Ascom Fórum Lafayette (31) 3330-2123 ascomfor@tjmg.gov.br Processos: 024 11088861-7 e 024 10120439-4 Fonte: TJMG
Justiça condena pais de aluna a indenizarem professora que teve foto das nádegas divulgada na internet.
A Justiça do Rio de Janeiro condenou os pais de uma aluna da escola Escola Rural São Vicente de Paula, em Campo Grande, zona oeste do Rio, a pagarem uma indenização de R$ 5.000 para a professora da filha. A menina é acusada de ter tirado uma foto das nádegas da docente e divulgado na rede social Orkut com a descrição “televisão de 42 polegadas”. O caso aconteceu em 2009. Segundo o processo, a professora ficou sabendo da foto por meio de alunos da própria escola. Os pais da menina afirmam que a filha nega ter cometido o ato, mas mesmo assim procuraram a professora para se desculparem. Eles também questionam a falta de provas de que a fotografia foi tirada pelo aparelho celular da garota e dizem que “houve exagero da professora que poderia ter levado o caso para a direção da escola, pois se tratava de uma questão geral, visto que todos os alunos a difamaram”. A professora pediu uma indenização de R$ 24 mil. O valor foi reduzido para R$ 12 mil e, por fim, a 10ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio decidiu que os pais da garota deverão pagar R$ 5.000 por danos morais. Segundo o relator do caso, desembargador José Carlos Varanda, o fato violou o direito de imagem e gerou constrangimento para a professora. Fonte: www.educacao.uol.com.br
Plano de saúde é condenado a pagamento de danos morais e materiais.
A usuária do plano será indenizada em mais de R$ 18 mil reais pelos danos morais e materiais que sofreu ao ter seu tratamento experimental negado pela seguradora. Os desembargadores da 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça, à unanimidade de votos, mantiveram sentença da 1ª Vara Cível de Mossoró que condenou a Cassi – Caixa de Assistência dos Funcionários dos Bancos do Brasil S/A – ao pagamento de R$18.130,00 – sendo R$ 9 mil a título de danos morais e R$9.130,00 por danos materiais – por ter se recusado a custear um tratamento experimental para uma usuária do plano de saúde. Em sua defesa, a Cassi alegou que o procedimento hospitalar pretendido não estaria coberto pela garantia contratual, não sendo ilegítima a recusa de atendimento. E que não existe comprovação quanto a sua eficiência e eficácia do tratamento na solução do problema de saúde de que seria a recorrida portadora. Esclareceu ainda sua condição de prestadora de serviços complementares de assistência à saúde, em regime fechado, merecendo disciplina normativa própria. De acordo com o relator do processo, desembargador Expedito Ferreira,“ainda que se encontre estabelecido no instrumento da avença a incidência de determinado preceito negocial, pode ser a relação contratual discutida judicialmente, no afã de se aquilatar os direitos e obrigações acertados no pacto, impedindo o surgimento de vantagens desproporcionais e ainda que venha qualquer das partes a sofrer prejuízo”. Ainda segundo o relator, mesmo existindo pacto contratual livremente celebrado entre as partes, é assegurado ao Poder Judiciário intervir na relação negocial para devolver à relação jurídica o equilíbrio determinado pela lei, atendendo-se, neste caso, sobretudo a uma função social. Fonte: www.jornal.jurid.com.br
Renegociação que mantém essência da obrigação originária permite revisão de contratos anteriores.
O contrato renegociado que traz inovações acessórias, não substanciais e que não deixam dúvida sobre a permanência da obrigação principal e da manutenção dos elementos originais, permite a revisão de cláusulas anteriormente estabelecidas, por não caracterizar o instituto da novação (criação de uma nova obrigação). A decisão é da Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), ao julgar recurso do Banco Itaú contra correntistas de Santa Catarina, insatisfeitos com cláusulas estabelecidas em contrato de abertura de crédito. Os correntistas alegaram que a dívida, resultado de sucessivos pactos, tinha sido calculada unilateralmente pelo banco. A Turma entendeu que, no caso, incide a Súmula 286 do STJ, que permite a discussão de eventuais ilegalidades estabelecidas por contratos anteriores quando não há novação. Sucessivos acordosDiante da execução da dívida, os correntistas apresentaram embargos com o argumento de que o banco não havia deduzido da conta parcelas que foram pagas em contratos anteriores, inclusive para saldar juros e o Imposto sobre Operações Financeiras (IOF). A renovação da dívida ocorrida durante os sucessivos acordos, segundo a defesa apresentada, não implicaria novação, mas contrato de adesão em que houve acréscimo indevido de juros, correção monetária e outros encargos. O juízo de primeiro grau acolheu o argumento de que não há novação em contrato de adesão e determinou o prosseguimento da execução contra os correntistas. Insatisfeitos com o cálculo apresentado pelo perito judicial, recorreram ao Tribunal de Justiça de Santa Catarina (TJSC), que determinou ao banco que apresentasse os contratos que resultaram na renegociação da dívida, como a memória atualizada dos cálculos desde os contratos originários. Como esses cálculos não foram apresentados, o processo foi extinto, em desfavor do banco. Em recurso ao STJ, o Banco Itaú apontou equívoco na decisão do tribunal estadual, com o argumento de que o título apresentado era o único documento necessário à instrução da execução. A Súmula 300 do STJ dispõe que “o instrumento de confissão de dívida, ainda que originário de contrato de abertura de crédito, constitui título executivo extrajudicial.” Modificações acessóriasSegundo o relator, ministro Luis Felipe Salomão, os atributos emanados do título executivo são relativos, tanto que o juiz pode questionar sobre a origem, a natureza e o objeto do crédito nele inserto. Ao juiz também é reconhecido, segundo o ministro, amplo poder de instrução, qualquer que seja a natureza da relação jurídica debatida no processo. De acordo com Salomão, em alguns casos de contrato de abertura de crédito, o que se verifica não é a novação do contrato propriamente dita, ante a ausência de modificação substancial da obrigação extinta, mas mero parcelamento da dívida ou prorrogação da data do vencimento, o que permite a revisão pelo juízo da execução. A Súmula 286 do STJ dispõe que “a renegociação de contrato bancário ou a confissão da dívida não impede a possibilidade de discussão sobre eventuais ilegalidades dos contratos anteriores.” Segundo Salomão, essa súmula não concede carta branca ao magistrado para interferir na autonomia das partes quando há o real interesse de assumir nova obrigação, mas o poder-dever de aferir ilegalidades nos acordos anteriores ao título executivo, quando descaracterizada a novação. Se o título judicial for resultado de simples expressão do valor da obrigação apurado no momento da renegociação entre as partes, conforme Salomão, “abre-se ensejo à confrontação dos critérios adotados para a formação do débito a partir dos registros feitos unilateralmente pelo banco na execução do contrato, incidindo, nessa hipótese, a Súmula 286, mormente em face da amplitude e da profundidade da cognição em sede de embargos do devedor”. Fonte: www.stj.jus.br